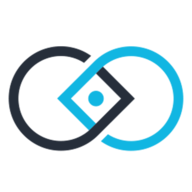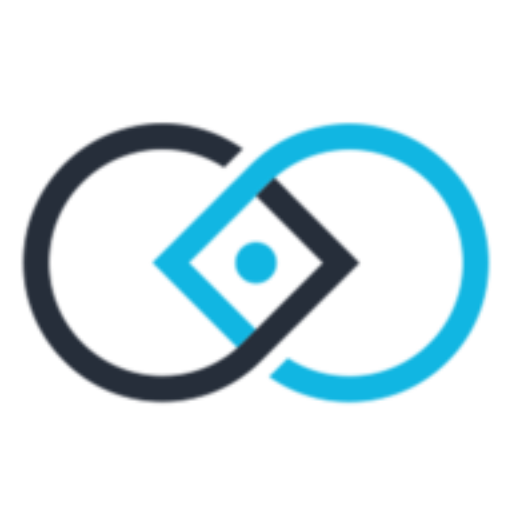Desde há alguns anos que a expectativa relativamente aos Novos Acordos de Capital, vulgarmente conhecidos por Basileia II, tem vindo a crescer com entusiasmo. E havia razões para isso! A ideia da substituição do velho Acordo de 1986 por uma abordagem completamente nova que aproximava a alocação regulamentar de capital à real alocação de capital económico era uma ideia interessante, tanto para controllers, como para accionistas, como para as unidades comerciais, como, até, para a boa salubridade de todo sistema financeiro internacional. Afinal, estava-se a tentar regulamentar pela correcta gestão do risco e não a definir novos desafios à imaginação de como ultrapassar essas regras. Mais que um conjunto de regras estava-se a definir uma framework.
Desde há alguns anos que a expectativa relativamente aos Novos Acordos de Capital, vulgarmente conhecidos por Basileia II, tem vindo a crescer com entusiasmo. E havia razões para isso! A ideia da substituição do velho Acordo de 1986 por uma abordagem completamente nova que aproximava a alocação regulamentar de capital à real alocação de capital económico era uma ideia interessante, tanto para controllers, como para accionistas, como para as unidades comerciais, como, até, para a boa salubridade de todo sistema financeiro internacional. Afinal, estava-se a tentar regulamentar pela correcta gestão do risco e não a definir novos desafios à imaginação de como ultrapassar essas regras. Mais que um conjunto de regras estava-se a definir uma framework.
O Comité responsável pela construção do novo acordo vem desde 1999 a lançar no sistema financeiro internacional propostas, inquéritos e pedidos de sugestões de como esta nova framework deveria ser definida, estudou os modelos de avaliação de risco mais utilizados no mercado bem como a sua adequabilidade a uma abordagem regulamentar. Definiu um plano, baseado em estágios, de forma a que as instituições financeiras pudessem cumprir o acordo logo desde o início, começando com uma abordagem muito básica e, nos seus princípios, muito semelhante ao acordo de 1986, até a uma abordagem avançada da avaliação do risco.
Tudo isto acompanhado de uma alocação decrescente acompanhando uma crescente complexidade da avaliação do risco. Parecia um caminho indiscutivelmente correcto. Quase brilhante!
Os problemas começaram a surgir quando se começou a verificar as dificuldades de adequar os modelos de avaliação de risco usados habitualmente a uma estrutura de regulamentação. Os modelos habitualmente usados são modelos de carteira ou de portfólio (como se quiser designar). A diversificação é um factor fundamental na gestão de risco, pelo que a boa gestão do risco a tem que levar em conta.
Quer isto dizer que o capital económico alocado a uma carteira não é a soma do capital alocado a cada uma das exposições individualmente, uma vez que existe um efeito de diversificação (por exemplo, se tiver dois empréstimos a duas empresas que partilham uma quota de mercado fixa será lícito pensar que os ganhos de uma serão as perdas da outra, pelo que a força financeira de uma cresce com a fraqueza da outra e não será provável que as duas entrem simultaneamente em incumprimento).
Isto traz alguns problemas para quem está de fora a controlar, afinal como pode um regulador avaliar desse efeito?
Mais, como as esmagadora maioria das instituições financeiras avaliam as suas estruturas comerciais por modelos de rendibilidade, como explicar a um comercial que o spread que atribuiu a um cliente era correcto ontem mas, devido ao incumprimento de outro cliente num balcão a 300 km do seu, mas que estava na mesma carteira do modelo, passou a ser péssimo?
Acordo de Basileia II
Assim, havia boas razões para que os modelos de carteira não fossem usados como sustentáculo da nova framework, e se começasse a pensar num modelo que desse uma boa avaliação do risco e, simultaneamente, se conseguisse decompor numa carteira a alocação de capital encontrada por cada uma das exposições individualmente. Por isso, a dada altura de processo de inquérito e consulta, o Comité já definia curvas de calibração de modelos baseadas numa versão muito simplificada do modelo conhecido por Merton-Vasicek (embora, curiosamente ou não, o Comité nunca o tenha explicitamente identificado) que se demonstra, sob certas condições de construção das carteiras, que o capital alocado a estas corresponde à soma do capital alocado a cada uma das exposições individualmente.
Como estas condições são condições limite, isto é, que se verificam em casos limites como ter uma carteira com um número infinito de exposições, o Comité colocou a hipótese de introdução daquilo a que chamou de ajuste de granularidade aplicado a toda a carteira fora das exposições de retalho, isto é, todas as exposições superiores a 1 milhão de , e que resolvia a questão da inexistência de carteiras com um número suficientemente grande para se dizer que era infinito.
Esta abordagem do Comité, apesar de não corresponder a uma correcta avaliação de risco do ponto de vista dos fundamentalistas, tinha algumas vantagens para as pequenas exposições (chamadas exposições de retalho). O modelo de Merton-Vasicek baseia-se no princípio de que o valor dos activos de um cliente é dependente de um dado índice de mercado (em abstracto) e que entrará em incumprimento quando o valor dos seus activos descer de um certo patamar dependendo do valor do índice.
Este modelo é extremamente interessante quando as carteiras são organizadas não em ratings (perfis de risco) mas em sectores de actividade do cliente ou outras formas de segmentação que se possam associar a uma variável de mercado. Por exemplo, ter uma carteira de clientes individuais do distrito de Faro e avaliar com base na taxa de desemprego do distrito de Faro qual a incidência de incumprimentos correlacionada com aquele índice.
Assim com o estudo da evolução futura do índice, obtém-se o valor sobre risco da carteira e, com este, o capital económico a alocar. Se pensarmos que a esmagadora maioria das exposições na banca portuguesa iriam cair na categoria de exposição de retalho, o modelo para que o Comité avançava era muito interessante para o mercado português.
No entanto, o questionário de impacto quantitativo que o Comité lançou em Novembro de 2002 traz toda a gente de volta à terra. O ajuste de granularidade é abandonado por ser considerado demasiado complexo para ser avaliado pelas entidades reguladoras.
Mas o pior é que o Comité entendeu definir ele mesmo o índice a partir do qual o modelo de Merton-Vasicek avalia a probabilidade de incumprimento, que diz ser um índice de ciclos económicos e definir para todas as exposições o valor da correlação que os incumprimentos de cada carteira têm com esse índice por meio de modelos empíricos, deixando às instituições apenas a medida da probabilidade de incumprimento por ocorrência de eventos.
No passado dia 29 de Abril de 2003 é publicado o terceiro Consultative Paper (a última versão tentativa do acordo antes da publicação do acordo em si) confirmando a abordagem do inquérito de Novembro de 2002.
Do nosso ponto de vista, a desilusão é enorme. Aquilo que seria uma regulamentação de avaliação de risco mais próxima da realidade tornou-se numa versão do acordo de 1986, mascarada de modelo de avaliação de risco, extremamente complexa de implementar em termos operacionais e cuja mais-valia em termos da correcta avaliação de risco é quase nula.
É verdade que as instituições vão conseguir libertar algum do capital alocado, principalmente nas pequenas exposições, e por isso a reacção geral até parece ser positiva. Mas a correcta avaliação do risco foi a grande vítima de todo este processo. A partir de Janeiro de 2004, data em que se inicia o período transitório, surge uma nova oportunidade de negócio em todo o sistema financeiro a venda de novos instrumentos financeiros para a desalocação de capital, algo cuja eliminação era um dos grandes objectivos do novo acordo.
João Pires da Cruz
2003-09-12
Centro de Informação-DATABASE & BUSINESS INTELLIGE
Consultoria – Advice